A redução da relação dívida-PIB no começo
do ano deveu-se principalmente à aceleração da inflação, uma “solução”
indesejável para o problema. Não deveríamos contar com isso para lidar com o
endividamento excessivo.
Depois
de atingir 90% do PIB em fevereiro deste ano, a dívida bruta do governo geral
(União, estados e municípios, sem empresas estatais ou o Banco Central) caiu
para 86,7% do PIB em abril, no curto espaço de dois meses. Como no momento de
sua divulgação o PIB do primeiro trimestre ainda não era conhecido, o valor
deve ser ainda mais baixo, possivelmente em torno de 85,5% do PIB naquele mês,
o que, se confirmado, traria a dívida para patamares observados em meados do
ano passado.
Fonte: Autor com dados
do Banco Central
Parte
importante da história é a evolução do denominador da fração, o PIB, notando
que seu aumento decorre de duas variáveis: o aumento da atividade (o
crescimento propriamente dito) e a elevação dos preços no período, a popular
inflação.Para
esclarecer a importância relativa destas variáveis (bem como outras tantas),
resumimos na tabela abaixo os fatores determinantes da evolução da dívida desde
2007, quando a atual definição de dívida bruta começou a ser utilizada pelo BC,
notando que a estimada pela metodologia anterior ainda é publicada pelo BC e
indica um valor cerca de 10 pontos percentuais do PIB mais alto, na casa de
96,6%.
Tentando
manter os números tratáveis, dividimos o período em 5 intervalos: 2007 a 2013,
2014 a 2016, 2017 a 2019, 2020 e os três meses até março de 2021, que, com a
divulgação do PIB do primeiro trimestre, também pode ser tratado da mesma forma.
A
classificação aqui empregada é algo diferente da utilizada pelo BC, mas
acredito que ajuda não só a lançar uma luz sobre o comportamento passado da
dívida, como também a entender o que podemos esperar para os próximos anos. Classificamos
assim os fatores determinantes da evolução da relação dívida-PIB em 4 grandes
grupos:
- A
dinâmica de dívida, isto é, a interação entre o juro real (já deduzida a
inflação) sobre a dívida, o crescimento do PIB e os resultados primários do
governo. Juro real acima do crescimento tende a puxar a dívida para cima,
requerendo, portanto, superávits primários para sua estabilização ou decréscimo
e vice-versa;
- O
ajuste cambial, que reflete a valorização ou desvalorização do dólar,
assim como de outras paridades, já que parte da dívida é denominada em moeda
estrangeira;
- O
reconhecimento de dívidas (“esqueletos”), devidamente abatidos de
receitas de privatização; e
- Outras
operações, que refletem principalmente a
capitalização dos bancos oficiais (BNDES notadamente) e a devolução recente de
recursos ao Tesouro, bem como a compra e venda de reservas internacionais, a
primeira se traduzindo em aumento do endividamento bruto do governo e a segunda
em sua redução.
Variação
anual média da dívida bruta - % PIB
|
|
2007-13
|
2014-16
|
2017-19
|
2020
|
2021*
|
|
Variação da dívida bruta (A) + (B) + (C)
+ (D)
|
(0,6)
|
6,1
|
1,5
|
14,6
|
(1,0)
|
|
(A) Dinâmica de dívida (1) + (2) + (3) +
(4)
|
(2,7)
|
5,6
|
3,5
|
13,8
|
(1,7)
|
|
(1) Resultado primário do Governo Geral
|
(2,6)
|
1,6
|
1,4
|
9,6
|
(0,7)
|
|
(2) Juro real - dívida bruta
|
1,8
|
2,8
|
3,1
|
1,3
|
(0,8)
|
|
Juro nominal
|
5,8
|
7,0
|
6,0
|
4,7
|
1,3
|
|
Inflação
|
(4,0)
|
(4,2)
|
(2,9)
|
(3,4)
|
(2,2)
|
|
(3) Crescimento real do PIB
|
(2,1)
|
1,3
|
(1,1)
|
3,1
|
(0,2)
|
|
(4) Efeito cruzado inflação-PIB
|
0,2
|
(0,1)
|
0,0
|
(0,1)
|
0,0
|
|
(B) Ajuste cambial e paridades
|
0,0
|
0,4
|
0,2
|
1,3
|
0,6
|
|
(C) Reconhecimento de dívidas (-)
privatização
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
(0,0)
|
0,0
|
|
(D) Outras operações
|
2,0
|
0,1
|
(2,3)
|
(0,6)
|
0,1
|
|
Emissões para bancos oficiais
|
1,3
|
(0,5)
|
(1,5)
|
(0,2)
|
nd
|
|
Operações com reservas internacionais
|
1,6
|
0,2
|
(0,7)
|
(1,6)
|
nd
|
|
Demais operações do BCB
|
(0,7)
|
0,4
|
0,1
|
0,8
|
nd
|
|
Demais operações do Governo Geral
|
(0,2)
|
(0,1)
|
(0,2)
|
0,5
|
nd
|
* Até março
Fonte: Autor com dados
do Banco Central
Antes
de avançarmos, uma palavra sobre 2021. Conforme destacado, tratamos dos dados
até março, período para o qual temos uma estimativa oficial do
PIB produzida pelo IBGE. Como a relação dívida-PIB reflete a dívida no final do
período contra o PIB acumulado em 12 meses, falamos aqui do produto medido entre
segundo trimestre de 2020 e o primeiro de 2021. O crescimento, portanto,
resulta da comparação deste período com 2020. Todas as demais variáveis para o
primeiro trimestre de 2021 estão medidas como proporção do PIB dos 12 meses
terminados em março.
Alguns
resultados são muito claros. Noto, em primeiro lugar, que o esforço fiscal,
capturado pelo resultado primário do governo, ajudou a reduzir a dívida
entre 2007 e 2013, mas cumpriu papel diametralmente oposto desde então. De 2014
a 2016 a transformação do superávit primário em déficit ajudou a elevar a
dívida, fenômeno que se manteve mesmo depois da adoção do teto de gastos (de
2017 a 2019) e explodiu no ano passado, por força da necessidade de lidar com a
crise sanitária.
Já
o juro real sobre a dívida foi quase sempre positivo (a exceção é o período
mais recente, que trataremos à frente), caindo, contudo, sensivelmente já em
2020.
O
crescimento real da economia no período 2007-2013 (pouco inferior a 4% ao ano)
reduziu a dívida em torno de 2 pontos percentuais do PIB por ano. Com a
recessão de 2014 a 2016 acrescentou 1,3 pontos percentuais do PIB a cada ano,
só voltando a colaborar no triênio 2017-2019. No ano passado, a forte queda do
produto adicionou mais de 3% do PIB à dívida.
Resumindo,
a dinâmica de dívida foi positiva entre 2007 e 2013, mesmo com juros
altos, graças ao esforço fiscal de então. Com o desaparecimento dos superávits
primários adicionou mais de 40% do PIB à dívida entre 2014 e 2020.
Neste
sentido, o comportamento observado até março poderia ser tomado como animador.
Pela primeira vez desde 2013 a dinâmica de dívida atuou no sentido de reduzi-la,
em parte pelo superávit primário registrado no primeiro trimestre, em parte
pelo juro real negativo registrado do período e em parte pelo
crescimento do PIB (pequeno, porque comparamos os 12 meses terminados em março
com os 12 meses terminados em dezembro).
Todavia,
quando observamos as magnitudes envolvidas, conclui-se que redução da dívida se
deve principalmente ao comportamento do deflator do PIB, que atingiu 10% nos 12
meses terminados em março (o IPCA, medido também como média trimestral,
acumulou 5,3% no mesmo intervalo). O governo tem sido, portanto, sócio da
inflação.
Obviamente,
inflação alta não é a solução do problema do endividamento. Não é por outro
motivo que o BC tem elevado a taxa de juros, movimento que, espera-se, deve
reduzir a inflação no ano que vem, tanto no caso do IPCA como do deflator do
PIB. Em outras palavras, muito provavelmente retornaremos ao mundo de taxas
reais de juros positivas num futuro próximo.
Já
o crescimento do PIB, turbinado pela recuperação cíclica este ano, deve
desacelerar à frente, convergindo para algo ao redor de nosso crescimento
potencial. Nos termos da tabela acima, os itens (2) e (3) da dinâmica de dívida
não deverão colaborar para sua redução além de 2021.
A
responsabilidade, portanto, para a redução persistente da dívida, assim como
foi observado entre 2007 e 2013, deverá vir da melhora das contas públicas, em
particular da conversão do atual déficit primário em superávit. Todavia, não há
qualquer perspectiva de retorno a superávits primários nos próximos 4 a 5 anos,
no mínimo.
Há
quem aponte que a solução para o dilema esteja em crescer mais.
Nada
contra, obviamente, a não ser um pequeno problema: não controlamos a taxa de
crescimento (senão não haveria país pobre, exceto por nações masoquistas). No
máximo podemos articular políticas que favoreçam a expansão da capacidade de
crescimento, exatamente aquelas que ignoramos anos a fio: maior investimento,
melhora da capacitação da mão de obra, criação de ambiente de negócios mais
favorável, abertura econômica e reforma tributária, para ficar apenas com
algumas delas.
O
que sobra, se não conseguirmos reprisar o período de 2007 a 2013 no que se
refere ao desempenho das contas públicas? Neste caso teremos que reprisar o ocorrido
no começo deste ano, isto é, contar com a inflação para reduzir a dívida.
Não
é uma rima, nem uma solução, mas o que ocorrerá se não botarmos a casa em
ordem.
(Publicado 9/Jun/2021)


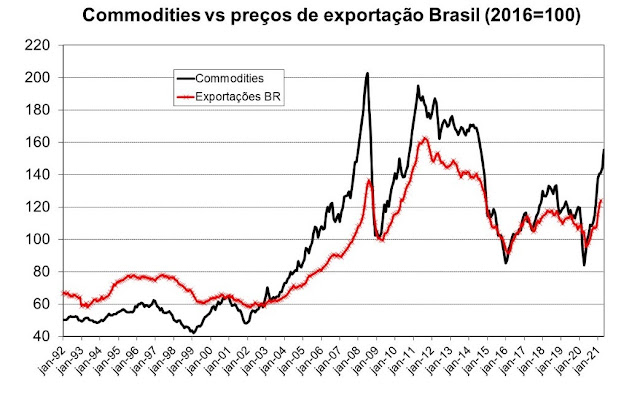















+exporta%C3%A7%C3%A3o+vs+Absor%C3%A7%C3%A3o+(-)+PIB.bmp)